Narrativas autobiográficas de mulheres: notas sobre figurações desalienadoras do passado
Narrations autobiographiques des femmes : notes sur les figurations désaliénatrices du passé
Resumo
A literatura autobiográfica de autoria feminina faz emergir vozes narrativas que nos revelam novos aspectos sobre a pluralidade da formação de identidades brasileiras. Nosso artigo reflete sobre a reconstrução do passado como instrumento de compreensão do presente, passando por questões de gênero, classe e etnia a partir das perspectivas de três narradoras que nos contam suas infâncias. Analisamos as obras: Minha vida de menina, de Helena Morley, Anarquistas graças a deus, de Zélia Gattai e Diário de Bitita, de Carolina Maria de Jesus. A partir de pontos de vistas pouco usuais na literatura brasileira, sobre a infância e a adolescência das três meninas, as narrativas convidam os leitores ao diálogo sobre tempos que ainda ecoam na contemporaneidade.
Palavras-chave: Literatura brasileira; Autobiografia feminina; Imigração; Literatura afrobrasileira; Helena Morley; Carolina Maria de Jesus; Zélia Gattai.
Résumé
La littérature autobiographique écrite par des autrices fait émerger des voix narratives révélant de nouveaux aspects relatifs à la pluralité de la formation des identités brésiliennes. Cet article met en évidence la reconstruction du passé comme instrument de compréhension du présent, en s’appuyant sur des questions de genre, de classe et d’ethnie. Pour cela, il s’appuie sur les perspectives de trois narratrices qui racontent leur enfance. Nous analysons les œuvres suivantes : Minha vida de menina, de Helena Morley, Anarquistas graças a deus, de Zélia Gattai et Diário de Bitita, de Carolina Maria de Jesus. Á partir de points de vue usuels dans la littérature brésilienne au sujet de l’enfance et de l’adolescence de trois jeunes filles, les trois narrations invitent les lecteurs à un dialogue sur des temps qui font toujours écho actuellement.
Mots-clés : Littérature brésilienne ; Autobiographie féminine ; Immigration ; Littérature afro-brésilienne ; Helena Morley; Carolina Maria de Jesus; Zélia Gattai.
------------------------------
Maria Clara Braga Machado Campello
Doutoranda em Estudos Lusófonos e Literatura
Université de Paris 3 - Sorbonne Nouvelle / Universidade de Brasília
Narrativas autobiográficas de mulheres: notas sobre figurações desalienadoras do passado
Introdução
As obras analisadas neste artigo, Minha vida de menina (1942), de Helena Morley, Diário de Bitita (1986), de Carolina Maria de Jesus, e Anarquistas graças a deus (1979), de Zélia Gattai guardam entre si a reelaboração do vivido em matéria narrativa. Gattai e Jesus, ao recorrerem às memórias de infância e adolescência quando já passavam dos cinquenta anos de idade, empreendem verdadeiras reconstruções de passados e refundação das próprias origens. Alice Brant, que escreveu sob pseudônimo de Helena Morley[1], diz em nota à primeira edição, ter pouco editado as notações ao diário que manteve quando menina, ao longo de dois anos, na virada do século XIX para o XX.
As três narrativas oferecem à leitora e ao leitor contemporâneos vozes capazes de apresentar diferentes personagens que ajudaram a compor a identidade brasileira, pela perspectiva de narradoras imigrantes e negras, ao mesmo tempo em que testemunham distintas etapas da formação social do país, passando pelos processos de abolição da escravatura e de fundação de uma nova República. Assim, é possível, a partir da reconstrução da vida ao rés-do-chão, para retomarmos a expressão de Antonio Candido (1993), acessar outras narrativas, deslocadas das perspectivas masculinas ainda preponderantes[2] no “campo literário” (Bourdieu, 1996). As obras narram a um só tempo o desabrochar das moças e o da nação, acabando por deixar entrever, nesse processo, fraturas de uma sociedade muito tempo interpretada por discursos amparados no “mito da democracia racial” (Fernandes, 2008). Assim, as obras enfocadas aqui evidenciam racismo e machismo presentes nos tempos e espaços a que se remetem. Mas também convidam a experimentar o viver da roça e o da cidade grande em ebulição, a vida no campo, o brincar livre, enfim o cotidiano dessas meninas em mundos que já não existem, e que a leitora e o leitor podem reerguer em companhia delas ao longo da leitura.
As protagonistas nos oferecem panoramas distintos da realidade brasileira pós-abolição: filha de mãe brasileira com pai inglês, Helena Morley registra em seu diário, publicado 47 anos mais tarde, sua rotina de menina sem posses, entre 1893 e 1895, quando tinha entre 13 e 15 anos de idade. A história se passa em Diamantina, interior de Minas Gerais. Já Bitita, apelido da autora Carolina Maria de Jesus, narra sua vida de criança e moça negra, nos levando a conhecer o seu dia-a-dia em Diário de Bitita, durante as primeiras décadas do século XX, mais ou menos, quando morava com a mãe e os irmãos em Sacramento (MG). Na mesma época, a narradora Zélia relata em Anarquistas, graças a deus como sua família de origem italiana se instalara na casa da Alameda Santos, na São Paulo capital do início do século XX onde crescera.
I. Autobiografia
Herdeiras de histórias de seus pais e avós, as autoras aqui apresentadas tornam-se narradoras desses relatos ao (re)construir suas próprias vidas por meio da escrita autobiográfica. De acordo com a definição de Philippe Lejeune (1996:14), o relato autobiográfico se trata de um “retrato retrospectivo, feito em prosa, que uma pessoa real faz da própria existência”[3]. Nas obras analisadas, podemos confirmar a identidade entre autoras-narradoras-personagens[4], reforçando a filiação dos livros ao gênero autobiográfico, assim como notamos com facilidade o consequente caráter referencial de cada uma. De modo que seria possível verificar vários elementos aludidos nas obras, como nomes de ruas, localização de bairros, identidade de personagens e datas históricas. Para além disso, percebemos ainda que os relatos, na maior parte autobiográficos, tornam-se por vezes biográficos, na medida em que as autoras-narradoras reconstroem também a história de seus antepassados.
Foucault (1992) chama de escrita pessoal o hábito de narrativizar o conhecimento como estratégia de construção de um sujeito racional. É usar a escrita autobiográfica para pensar sobre si mesmo como ser agente no mundo. Helena Morley revela em Minha vida de menina que:
Em pequena meu pai me fez tomar o hábito de escrever o que sucedia comigo. Na Escola Normal o professor de Português exigia das alunas uma composição quase diária, que chamávamos “redação” e que podia ser, à nossa escolha, uma descrição, ou carta ou narração do que se dava com cada uma. Eu achava mais fácil escrever o que se passava em torno de mim e entre nossa família, muito numerosa. (Morley, 1998:13)
Em diversas outras passagens, Helena torna a comentar o hábito de narrar o cotidiano, estimulado pelo pai e o professor. Convém notar que não era comum ser moça alfabetizada no Brasil da época. O primeiro censo, de 1872, dá conta de que 82% da população com mais de 5 anos era analfabeta e a situação parece não ter progredido muito até fins da década de 1890 (Ferraro, 2002: 33-34). Comparativamente, ao final do mesmo século a população da Inglaterra era praticamente toda alfabetizada. Dentro dessa realidade, é compreensível a influência exercida pelo pai, de imigração inglesa, para a educação da menina em meio a uma sociedade quase totalmente analfabeta. Matriculada no curso Normal, Helena pensava inclusive ser professora primária como a tia Madge, irmã de seu pai. No polo oposto, encontrava-se a avó materna, descendente de imigrantes portugueses. A fazendeira, embora rica, era analfabeta. Sobre ela, a neta, que lhe tinha em grande estima, observa: “Coitada, é muito inteligente, mas mal aprendeu a ler e escrever e por isso fica pensando que é uma coisa do outro mundo contar as coisas com pena”. Os índices de analfabetismo no Brasil só não eram piores que os de Portugal, sul da Espanha e Itália na mesma época. (Ferraro, 2002).
O analfabetismo no primeiro quarto do século XX sofreu quedas, passando a 71,2% em 1920 e a 61.2% em 1940 (Ferraro, 2002), mas permaneceu elevado, atingindo sobretudo as camadas mais fragilizadas da sociedade, como as mulheres e os negros. Em 1940, por exemplo, as informações do censo revelam que, enquanto a taxa geral de analfabetismo era de 61,2%, entre os brancos ela atingia 52%, sendo expressivamente mais alta entre os negros: 82% (Rosenberg, Piza, 1995/96: 117). De fato, Bitita, entre as três meninas, é a que tem menos acesso à educação formal em anos de estudo. Ela e Zélia contam que estudaram em escolas religiosas. Bitita cursou apenas os dois anos iniciais da escola primária em um estabelecimento espírita e Zélia frequentou uma professora primária de seu bairro, passando ao colégio de freiras nos anos seguintes. De modo que a educação pública ainda não tinha as bases comuns curriculares estruturadas como conhecemos hoje e as redes de ensino organizadas, o que só ocorreria durante o Estado Novo (1937-45) de Getúlio Vargas. Assim, podemos inferir com segurança que a escrita do diário não era prática corrente ao final do século XIX ou nas primeiras décadas do século XX entre as meninas moças, menos ainda entre as negras no Brasil.
No entanto, Beatrice Didier nos informa que a escrita íntima ou confessional sempre foi usada pelas mulheres ao redor do mundo de maneira mais fortemente ligada à tradição oral, como estratégia literária. No livro L’écriture-Femme (Didier, 1981), a partir da análise de doze autoras - que viveram entre os tempos da Grécia antiga até os anos 1980 -, Didier notou algumas características entre as obras dessas escritoras que chamou de “parentescos”[5]. O uso de linguagem pouco empolada, ligada ao cotidiano, e da narrativa como ferramenta literária de construção de uma identidade negada socialmente seriam as tônicas dessa escrita. A autora observou que a mulher – muitas vezes excluída do espaço público por estar frequentemente atrelada às tarefas domésticas, no interior da casa da família, trabalhando como mãe, esposa e dona de casa – usou a literatura como uma espécie de válvula de escape para buscar ali sua unidade como sujeito, sua identidade um pouco perdida na coletividade. O estudo interessa para revelar a expressividade da autoria feminina, além de ajudar a refletir sobre possíveis traços comuns na escrita de mulheres; percebemos, no entanto, que os exemplos usados por Didier são de autoras célebres, como Sapho, George Sand ou Virginia Woolf, cujos nomes, segundo Lejeune (1993:15), são frequentemente lembrados para se evocar a escrita de autoria feminina, mas sua marcada repetição evidencia justamente a falta de acesso ampliado à escrita pelas mulheres.
Para Lejeune, que se debruçou sobre os extensos arquivos da Biblioteca Nacional da França em busca de diários de moças comuns do século XIX, esse tipo de escrita só se popularizou na França a partir da década de 1850 no país. O autor acredita que, entre as possíveis razões que explicariam o fenômeno, figura justamente o sistema de educação dedicado às mulheres naquela época. No caso do Brasil, o acesso à educação para a maior parte das meninas só ocorreria de maneira mais expressiva cento e vinte anos depois, por volta de 1970 (Rosenberg, Piza, 1995/1996: 116). De modo que a escrita diarística no Brasil do final do século XIX para uma menina pobre, embora herdeira de avó rica, como Alice Brant, era naturalmente pouco usual. Assim, o seu livro já “amanheceu clássico” como avaliou Alexandre Eulálio em prefácio à primeira edição. Hoje o diário está entre os livros mais vendidos do país e conheceu mais de uma dezena de reedições, além de várias traduções para outras línguas.
Helena, protagonista de Minha vida de menina, fugia das atividades domésticas e deveres da escola para confidenciar todas as mágoas, felicidades pueris, segredos mais íntimos ao diário. Zélia Gattai, só após ter trabalhado a vida inteira como secretária e revisora do marido, Jorge Amado, buscou na escrita das memórias a sua própria realização profissional. E Carolina Maria de Jesus mesclou a busca de si a questionamentos sobre o seu tempo no seu livro.
Diferente da escrita autobiográfica de Alice Brant, Carolina Maria de Jesus e Zélia Gattai não recorreram à técnica do diário. A despeito do título Journal de Bitita (1982) - publicado primeiro na França, cuja versão em português resultou no Diário de Bitita (1986) -, o livro não se trata de um diário. Ele deriva da organização, edição e publicação póstuma de textos autobiográficos e ensaísticos reunidos em dois cadernos e entregues pela autora a duas jornalistas francesas. Suspeitamos que o sucesso do primeiro livro publicado na França – Le Dépotoire (de 1962, a partir da versão francesa de Quarto de Despejo, de 1960) – além da escrita de fundo autobiográfico dos manuscritos tenham contribuído para a escolha do título. O livro, portanto, não tem entradas datadas nem a notação dos eventos cotidianos.
Conforme define Jean Starobinski (2011: 13-14), o ensaio “seria a pesagem exigente, o exame atento” que apresenta “uma renovação de perspectivas”. Já o filósofo alemão Max Bense (2014) diz que o ensaio oscila entra a “ficção e a convicção”, formando “uma peça de realidade em prosa que não perde de vista a poesia”. Jesus examina em sua prosa memorialística a vida dos negros, a imigração no Brasil, o direito à terra, a violência contra a mulher. No caso de Zélia, as memórias de infância são organizadas em blocos de pequenas entradas escritas de maneira similar à da crônica, embora não tenham sido publicadas em periódicos. De acordo com Antônio Cândido, por tratar de assuntos cotidianos, pouco ligados a construções muito complexas do mundo literário, a crônica chama a atenção para a realidade, agindo como quebra do monumental e da ênfase: “Na sua despretensão, humaniza; e esta humanização lhe permite, como compensação sorrateira, recuperar com a outra mão certa profundidade de significado e certo acabamento de forma” (Candido, 1993: 23), definição que nos auxilia a entender a narrativa de Anarquistas, graças a deus. O autor explica ainda que há obras em que a autobiografia memorialística surge como um texto de cunho generalizador, em que é possível, a partir do relato individual, conhecer um tempo, um povo, um meio cultural e social, como ocorre no texto de Gattai.
Como cenário das três narrativas, observamos o desenho das sociedades da época finissecular e do início do século XX pela perspectiva das três meninas. Entre os relatos, uma constante: as marcantes diferenças de gênero, de classe e de etnia que permitem refletir sobre a diversidade que compõe o povo brasileiro. Vejamos como se dá a representação de mulheres, homens, negras e negros, além do mundo do trabalho e do universo infantil nas obras a fim de comparar as perspectivas apresentadas pelas autoras-narradoras, relativas à vida doméstica, mas também pública, no Brasil das primeiras décadas pós-abolição.
A. As mulheres e o seu tempo histórico
As narradoras das obras em questão estão inseridas nos tempos e espaços de seus relatos. De modo que, para compreender suas narrativas, precisamos recuar com elas no tempo histórico, estabelecendo uma pequena trajetória que as acompanhará nas entrelinhas de seus textos. Alice Brant escreve no período que segue imediatamente a abolição[6] dos escravos e a proclamação da República; Gattai e Jesus, apesar de contemporâneas entre si, apresentam perspectivas muito diferentes do mesmo tempo histórico. A primeira, nascida em 1916 rememora, décadas depois, a vida da família desde a emigração dos avós italianos até a instalação dos pais na capital paulista. Já a segunda, nascida em 1914, retraça na idade adulta a vida do avô ex-escravo, da mãe e de outras trabalhadoras negras cheias de filhas e filhos abandonados pelos pais e de sua infância no interior de Minas Gerais.
Para compreender o espaço social desenhado por cada livro, é preciso passar brevemente pela sociedade colonial, que firmou suas bases a partir da plantation, latifúndio voltado à exploração de monocultura para exportação por meio da exploração do trabalho escravo (Fausto, 1995: 47-48). A sociedade resultante dessa estrutura de exploração, que perdurou por mais de três séculos, se tornou bastante hierarquizada. Para dar conta dos ciclos de exploração da terra e das minas, aportaram no Brasil 4,8 milhões de negros traficados da África (Alencastro, 2014: 60). Paralelamente, desembarcaram na colônia portuguesa e, posteriormente no Brasil Império, um total de 750 mil portugueses, entre colonos (até 1822) e imigrantes (entre 1822 e 1850). Cerca de três vezes mais negras e negros africanos aportaram nas Américas entre os séculos XV e XIX. De modo que os escravizados constituíram a base de todo o trabalho exercido na sociedade colonial e no Brasil Império. Assim, qualquer atividade braçal era identificada com a escravidão negra e, ao longo do século XIX, a cor passou a ser um importante marcador social. Nesse contexto, o território foi organizado, desde o século XVI, com base no poder patriarcal do senhor de terras (Freyre, 1933), que concentrava poderes políticos e econômicos. No extremo oposto, estava o escravo que sequer era reconhecido como sujeito de direitos, mas como propriedade dos senhores.
Quando findou o regime escravocrata, grande parte dos escravizados já tinha se libertado como resultado de um longo processo de resistência à escravidão (Costa, 1999), mas também em função do esgotamento das lavouras de café. A população livre e liberta concentrava negros, mulatos e brancos pobres que “viviam em condições precárias” de acordo com Beatriz Nascimento (2019: 259-263). Dentro desse contexto “patriarcal e paternalista”, à mulher branca cabiam sobretudo os papeis de esposa e mãe, sendo que o trabalho com a casa e o cuidado com os filhos eram reservados às mulheres negras. Mais que a mulher negra, a mulher branca habitava sobretudo o espaço privado da casa de família. Enquanto a negra trabalhava dentro de casa, no eito ou, se deslocando nos espaços das cidades escravistas, como escravas de ganho. Se libertas, podiam vender sua força de trabalho como quitandeiras, costureiras, amas de leite, faxineiras e outras profissões afins.
Em fins do século XIX, quando a abolição e a República foram proclamadas, a situação não era muito diferente. Ao narrar o cotidiano dividido entre histórias de escola e brincadeiras ao fundo do quintal, a narradora Helena revela também, em Minha vida de menina, as tarefas típicas destinadas a meninas e mulheres brancas de seu entorno, como no trecho a seguir:
Quando vejo mamãe se levantar às cinco horas da manhã, passar para o terreiro com esse frio e ir para a cozinha acender o fogo, pelejando com lenha verde e molhada para nos dar café e mingau às seis horas, eu fico morta de pena. Começa o trabalho a essa hora e vai sem descanso até à noite. (Morley, 1998: 266).
Percebemos, portanto, que sua família não tinha posses, especialmente por não empregar criados e às mulheres brancas da casa o ócio não ser uma opção. Afinal, o status da mulher branca era legitimado pelo ócio, “suporte ideológico de uma sociedade baseada na exploração do trabalho e da pessoa de uma grande camada da população” (Nascimento, 2019). As brancas mais abastadas que Helena passavam “o tempo na janela ou sentadas na calçada, de tarde. Parece que não fazem nada" (Morley, 1998: 260). Apenas quando inevitável, o trabalho era absorvido pelas mulheres brancas pobres, conforme Helena conta a seguir: “A nossa negrinha Cesarina tem nos feito muita falta” (Morley, 1998: 70). A passagem se refere ao episódio em que a mãe despede a "criada" negra e Helena, junto com a irmã Luisinha assumem o trabalho de casa: “Hoje fui chegando ... e começando as obrigações da semana: passar a roupa de casa [inclusive a dos homens: pai e irmãos] a ferro”.
Embora sem luxos, a vida da menina Zélia, passada por volta da década de 1920, parecia menos atarefada que a de Helena. Zélia contava com duas irmãs mais velhas e a mãe que assumiam parte do trabalho doméstico. Mas a maior porção era responsabilidade da criada negra. Também nas memórias de Zélia, às mulheres brancas cabia o trabalho de mãe e esposa. Mas, diferentemente de Helena, cujo pai era imigrante inglês dedicado ao trabalho da mineração, mas a mãe era herdeira de terras, Zélia era filha e neta de imigrantes. Assim, no seu círculo de convívio, de mulheres e homens imigrantes, todos precisavam trabalhar. Já a vida de Helena, se comparada à vida de suas tias e primas da família materna, parecia substancialmente mais precária. No entanto, após a morte da avó proprietária de terras, seu núcleo familiar mais restrito ascende socialmente.
O passatempo preferido das moças, tanto em Diamantina, quanto na capital paulista da infância de Zélia era ver o movimento pela janela. No entanto, as primeiras décadas do século XX já reservavam às mulheres brancas, pelo menos as que viviam nas cidades grandes, mais possibilidades de lazer e de mobilidade espacial. Enquanto a mãe de Helena saía rodeada de filhos de casa para visitar parentes próximos ou fazer deveres domésticos, como lavar roupas, a mãe de Zélia, Dona Angelina, tomava frequentemente o bonde para visitar os irmãos do outro lado da cidade e não faltava às sessões de cinema para moças. Para as mais abastadas, havia sempre as peças de teatro, óperas e reuniões em casas de amigos muito bem descritas nos romances de Machado de Assis. De todo modo, tanto nas confidências de Helena quanto nas histórias de Zélia, o confinamento feminino é colocado em questão sobretudo pelas meninas, que percebem com olhos mais frescos essa falta de liberdade da mulher branca. Helena chega a invejar as mulheres negras que moram em choupanas e passam a vida a catar lenha nas matas próximas à vila. Mesmo assim, a mulher negra das memórias de Zélia e no diário de Helena ocupam apenas as posições de criadas.
Perspectiva diferente é oferecida por Carolina Maria de Jesus em Diário de Bitita, à medida que a personagem feminina negra assume o protagonismo da narrativa. Nos livros de Zélia e Helena, as mães são mulheres atarefadas com os filhos e os deveres domésticos, mas elas não trabalham fora de casa. No caso de Bitita, o cotidiano das mulheres de sua comunidade - mãe, tias, madrinhas, vizinhas – é o do trabalho doméstico. As negras são lavadeiras, cozinheiras, faxineiras e babás e acumulavam os trabalhos informais às chefias de suas famílias, buscando se sustentar com o dinheiro da lida nas casas de outras mulheres, em geral brancas, muitas delas de origem imigrante: portuguesas, italianas e sírias.
Desde os tempos coloniais, passando pelo Brasil Império, a mulher negra, em contraposição à branca, é “essencialmente produtora” e “desempenha um papel ativo” de trabalhadora (Nascimento, 2019). Enquanto as negras trabalhavam, suas crianças, quando tinham quem lhes cuidasse, ficavam com outras mulheres negras, mais velhas, numa ciranda infeliz de perpétua exclusão de gênero, raça e classe dos espaços formais de trabalho e estudo. Bitita era cuidada pela companheira do avô materno: a Siá Maruca.
Embora a escravidão parecesse algo distante de Zélia e de sua família – o pai era anarquista e advogava pelo direito de igualdade entre todos -, as personagens negras aparecem na narrativa em posição subalterna ou sob o olhar condescendente da menina de origem italiana. Enquanto as brancas são descritas com nome e sobrenome, às negras cabem apelidos ligados à etnia ou à função que desempenham. Em meio à comunidade que povoa a narrativa, os negros ainda ocupam posições sociais muito inferiores às dos imigrantes pobres. É o caso de Maria Negra. Ela personifica a situação socioeconômica comum entre a população negra e mestiça brasileira da sociedade no alvorecer do século XX: pobre, sem educação formal, trabalhadora infantil, vítima de preconceito. Ainda menina, Maria Negra era responsável por todo tipo de serviço doméstico e cuidado com as crianças na casa dos Gattai, embora fosse pouco mais velha que as filhas deles. Seu nome, Maria da Conceição, torna-se Maria Negra no bairro. A narradora faz questão de descartar o preconceito racial como motivador da alcunha:
Porque Maria Negra e não Maria da Conceição, se seu nome era este? Não foi certamente por racismo que lhe deram o apelido, isso não! Aquela era uma casa de livres-pensadores anarquistas. Inteiramente absurda semelhante hipótese, mesmo por brincadeira! (Gattai, 1982: 21)
A justificativa não nos impede de notar o óbvio: Maria da Conceição é identificada como Maria Negra, nome que marca sua condição étnica e social num bairro majoritariamente branco. E, embora a narradora rejeite a ideia do preconceito, não consegue fugir a ele e sequer consegue percebê-lo. Como muitos outros negros e mestiços na época, Maria nunca pusera os pés numa escola, era analfabeta, e começara a trabalhar “ainda mocinha”, na casa dos Gattai, como babá de Zélia.
Esse também foi o destino de Bitita, que só pôde frequentar uma escola por dois anos e logo a abandonou para trabalhar, ainda criança, em casas de família. Quando sua mãe deixa Sacramento para ser lavradora nas fazendas do interior de Minas Gerais, Bitita acaba sendo colocada como criada e babá de crianças brancas pouco mais novas que ela. A menina relata que a dona de uma dessas fazendas, ao conhecê-la, a examinou “minuciosamente com o olhar”, como se “estivesse à venda” dizendo-lhe que “era uma negrinha esperta” (Jesus, 1994: 136). Mais adiante, a fazendeira lhe propõe que fosse trabalhar em casa dela, lhe oferecendo como pagamento um vestido novo que nunca lhe dera.
O ponto de virada nas representações das negras e negros nas três obras se dá, portanto, com o Diário de Bitita. Toda a dinâmica de pobreza, exclusão e preconceito que envolvem a figuração da personagem negra passam a ser ressignificadas. No Diário de Bitita as vozes narrativas são negras; é sobretudo a voz da narradora, menina negra, que o leitor escuta. Em Minha vida de menina, Helena classifica os adultos negros como grupo homogêneo: “negraria ou “pretos”, ou por meio de diminutivos pejorativos quando individualizados: como “negrinha” e “pretinho”. Em contraste, Bitita emprega por vezes o mesmo léxico para colocar em evidência justamente o sujeito vitimado, suas sensações, angústias, resultando na desnaturalização da dominação a que foi subordinado. É o que ocorre quando Bitita e Helena usam o termo “negrinha” nos exemplos citados acima. Percebemos, por exemplo, que, nos dois casos, o uso do diminutivo “negrinha” - para se referir à criada Cesarina por Helena e à Bitita pela fazendeira -, não ocorrem sem consequências e revelam a inferiorização da negra trabalhadora. No caso de Bitita, Jesus emprega o termo de modo a deixar evidente o preconceito e a estratégia de dominação da mulher branca sobre a menina negra.
Também a racialização como ferramenta de hierarquização ganha evidências reveladoras na voz de Bitita. Ainda pequena, a narradora descobre que a cor de sua pele era para os brancos motivo de ofensas: "Eu sabia que era negra por causa dos meninos brancos. Quando brigavam comigo, diziam: Negrinha! Negrinha fedida!” (Jesus, 1994: 95). Ao longo da narrativa, à mulher negra, além do racismo, ainda lhe pesava a exploração sexual: “Se o filho do patrão espancasse o filho da cozinheira, ela podia reclamar [...] Mas se a cozinheira tinha filha, pobre negrinha. O filho da patroa a utilizaria para o seu noviciado sexual” (Jesus, 2014: 38). Nessa passagem, Bitita parece ceder espaço à voz de uma narradora muito mais madura, que revela sem rodeios a naturalização do estupro das adolescentes negras pelos homens brancos. Beatriz Nascimento explica que a exploração sexual da mulher negra se origina com o sistema patriarcal fundado na colonização, em que a “moral cristã portuguesa atribuía à mulher branca...o papel de esposa...com a vida sexual restrita à maternidade”, e destinando à negra ou mestiça “a liberação da função sexual masculina” (Nascimento, 2019: 263). Esse sistema de exploração sexual, explica Nascimento, somados a mecanismos ideológicos de sexualização e animalização da mulher negra, mantiveram e legitimaram a violência sexual ao longo do tempo.
Retomando a análise da narração de Helena, observamos uma necessidade corriqueira de se apontar que certos pretos são muito limpos ou asseados, como se tais comportamentos diferissem do comum ou esperado. Em geral, são retratados como "alugados", pobres, doentes e pouco inteligentes. No livro, inúmeros passagens retratam crianças negras em condições de saúde muito frágeis, magras, desnutridas, “mirradas”, barrigudas, e até "roídos de baratas", ou os descreve sob a ótica eugenista: "meninos pretos e burros" (Morley, 1998: 145). Em geral, essas crianças, como vimos no caso de Bitita e Maria Negra, não frequentavam a escola e não tinham qualquer acesso à saúde pública.
Já Gattai, mais atenta ao racismo, busca conferir um tom empático às personagens negras de sua obra. Mesmo assim, ela não consegue descrevê-las fora do mundo do trabalho subalternizado. A empregada doméstica “Maria Negra” some da história quando deixa de trabalhar para os Gattai. De acordo com a narradora, a vida dura de Maria fora dificultada ainda mais por casamento e gravidez precoces. Quando resolve se casar, a moça se despede da história e entra no cotidiano comum e quase sempre invisível de tantas outras mulheres pobres e negras que acumulam o trabalho com a casa, o marido e os filhos. O lugar onde moraria é assim descrito: “Casa miserável, uma tapera: dois quartinhos acanhados, cozinha caindo aos pedaços e a privada fora, lá longe” (Gattai, 1982: 109). A passagem evidencia a pobreza da população negra representada no relato, constituída por Maria Negra, o marido, apenas descrito como Luís da farmácia, além da mãe dele e sogra de Maria, sem nome.
B. Os homens
Nas três narrativas, o homem é uma presença quase ausente dentro de casa. Os pais de Zélia e de Helena incarnam o modelo patriarcal do chefe de família provedor em geral presente nas festas e finais de semana. Eles trabalham fora e não se envolvem com questões domésticas. O pai de Helena, inglês liberal e protestante, era garimpeiro nas minas decadentes de Diamantina. Passava semanas longe de casa no trabalho e, muitas vezes, era a família que se deslocava para revê-lo, momentos que Helena descreve com ternura pelas aventuras das andanças por estradas e pela mata da região. O pai de Zélia, seu Ernesto Gattai, um italiano anarquista, tinha uma pequena oficina mecânica de onde tirava o sustento da família. Os avós trabalharam em lavouras de café. Mesmo distantes do cotidiano privado das casas das famílias, os pais de Helena e Zélia buscavam incentivar o estudo de suas filhas.
Os homens adultos do círculo de Helena, salvo o pai e o avô (médico) não têm profissão definida pela narradora; os tios maternos vivem de administrar a herança do pai falecido. Já os homens italianos, retratados por Zélia, proviam suas famílias com o dinheiro do trabalho semanal de pequenos negócios e tiravam folga aos domingos, quando passavam o dia a jogar bocha ou morra nas ruas fechadas para o tráfego. Diferente das outras narradoras, Bitita não conhecera o seu pai. As figuras masculinas em Diário de Bitita em geral são homens negros desempregados, analfabetos e vadios que acabavam por abandonar as famílias. Caso diferente era o do avô de Bitita, figura central na formação de menina:
Será que cada criança precisa ter um pai? O pai de minha mãe foi Benedito José da Silva. Sobrenome de sinhô. Era um preto alto e calmo. Resignado com a sua condição de soldo da escravidão. Não sabia ler, mas era agradável no falar [...]. Eu achava bonito ouvir a minha mãe dizer: — Papai! E o vovô responder-lhe: — O que é, minha filha? Eu invejava a minha mãe por ter conhecido pai e mãe. (Jesus, 2014: 13).
O homem, que fora escravo, tinha Silva como sobrenome e carregara na identidade a marca da escravidão. Além dele, Bitita convivia com alguns tios, todos analfabetos, desempregados, alcoólatras e violentos com suas mulheres e que podem ser bem representados pela descrição da menina de um tio: “Eu olhava o rosto do tio Joaquim, um rosto triste como uma noite sem lua” (Jesus, 1994: 68). Embora o avô seja representado sob a ótica da neta orgulhosa, também não lhe era incomum agir com violência em relação às mulheres negras. Numa passagem da narrativa, o homem espanca de cinta a esposa, Siá Maruca, por ter saído de casa sem sua permissão: “É a última vez que a senhora sai sem meu consentimento. Quando quiser sair, peça permissão. Quem manda na senhora sou eu” (Jesus, 1994: 83). Presenças frequentes nas ruas por falta de emprego, os homens negros eram amiúde vítimas da violência policial, que não escapa à narradora: “Por que será que o branco pode matar o preto?” (Jesus, 1994: 116).
Em Minha vida de Menina, o homem negro aparece como agregado (categoria da qual trataremos melhor na seção seguinte), caso por exemplo do menino Emídio, garoto que vivia para fazer pequenos trabalho para a família de Helena, como carregar lenhas ou matar passarinhos para os meninos. Afinal, segundo as palavras de Roberto Schwarz (1997), a família de Helena não fugia à regra “da grande família patriarcal, com proprietários ricos e influentes no centro, e parentes, dependentes, afilhados, ex-escravos e desvalidos ciscando à sua volta”. Para sobreviver, esses agregados recorriam a uma vida de servidão em troca de casa, comida e alguma proteção, sem deixar de sofrer todo tipo de humilhação, conforme revelam alguns episódios da narrativa. Num desses relatos, a narradora conta que, em razão das comemorações do aniversário de uma tia, os primos preparam uma peça de teatro em que o menino Emídio é convocado para o ato cômico: “Ele [o primo] chamou Emídio e perguntou se queríamos ver um negro virar branco, e virou farinha de trigo na cara de Emídio. Depois ele ainda...quebrou um ovo na cabeça de Emídio”. A função do preto Emídio na peça é servir de elemento cômico, ser ridicularizado em sua posição racializada de inferioridade. A menina avalia, no entanto, que os primos “representaram muito bem e com muita graça” (Morley, 1998: 61-62).
C. O mundo do trabalho
A precariedade do trabalho livre do homem negro, mas também da mulher negra, após a abolição está relacionada ao processo de colonização e de libertação dos escravos. Após o 13 de maio, as mulheres e homens escravizados deixaram de ser problema dos fazendeiros e do Estado. A partir daquela data, “o liberto se viu convertido em senhor de si mesmo, responsável por sua pessoa e por seus dependentes, embora não dispusesse de meios materiais e morais para realizar essa proeza nos quadros de uma sociedade competitiva” (Fernandes, 2008: 29). O sociólogo Florestan Fernandes explica que a questão da transição do trabalho escravo para o livre incluía o negro escravizado enquanto o trabalho na lavoura estava ligado a ela, mas, com parte das terras exaurida, a alternativa dos imigrantes e a abolição pura e simples, sem compensação nenhuma, os negros libertos foram esquecidos.
Assim, em zonas onde a prosperidade ainda era fruto das lavouras de café, Fernandes explica que havia duas opções: ou o proprietário passava a absorver a mão de obra escrava ou os negros permaneciam nas lavouras “em condições substancialmente análogas às anteriores”, como ocorrera com os ex-escravos da avó de Helena, a matriarca da família materna da narradora de Minha vida de menina, dona de muitas terras. Helena a apresenta como mulher muito generosa por admitir que os ex-escravos permanecessem lhe servindo em sua propriedade, permitindo-lhes que ganhassem algum dinheiro com a venda de comida: “Na chácara, moram ainda muitos negros e negras do tempo do cativeiro, que foram escravos e não quiseram sair com a Lei de 13 de Maio. Vovó sustenta todos” (Morley, 1998: 52).
Percebe-se que os negros recém libertados não tinham opção de trabalho formal. Afinal, conforme explicou Emilia Viotti Costa (1998: 339):
Como a Abolição resultara mais do desejo de livrar o país dos inconvenientes da escravidão do que de emancipar o escravo, as camadas sociais dominantes não se ocuparam do negro e da sua integração na sociedade de classes. O ex-escravo foi abandonado à sua própria sorte
Os que optavam por deixar o trabalho escravo eram obrigados a incorpora-se “à massa de desocupados e semi ocupados da economia de subsistência do lugar ou de outra região” (Fernandes, 2008). Observando os homens livres do mundo escravocrata, a historiadora Maria Sylvia de Carvalho Franco (1997: 14) explica que:
Formou-se, antes, uma ‘ralé’ que cresceu e vagou ao longo de quatro séculos: homens a rigor dispensáveis, desvinculados dos processos essenciais à sociedade. A agricultura mercantil baseada na escravidão simultaneamente abria espaço para sua existência e os deixava sem razão de ser.
Quer dizer, esses homens livres do tempo da escravidão se movimentavam nos interstícios da organização colonial voltada à exploração da monocultura. A essa ‘ralé’ juntaram-se os negros recém-libertos do pós-abolição que se agregaram às famílias brancas. Emídio, o rapazinho negro ridicularizado pelos primos de Helena, incarna bem essa descrição de Franco. Para o historiador Lincoln Secco (2020): “essa população era permanentemente submetida à violência vertical (repressão dos mandões locais ou do Estado) ou horizontal, nas relações de vizinhança ou de trabalho eventual”. Para o historiador Luiz Felipe de Alencastro, “a questão do trabalho desembocava em cheio na questão nacional” (2019: 224) porque desnudava os interesses por trás da atração de imigrantes durante o século XIX, bem como da questão dos ex-escravizados dentro do sistema de produção e da organização da “futura vida pública brasileira”. Por um lado, os fazendeiros buscavam mão de obra para substituir os escravos, por outro, o governo imperial tencionava atrair imigrantes brancos do norte da Europa para “civilizar” o país a partir do “embranquecimento” da população majoritariamente negra. A socióloga Lília Schwarz (2010: 5) evidencia como, ao final dos Oitocentos, as teorias do cientificismo eugenista foram usadas como argumento legitimador da campanha imperial de atração do elemento europeu:
Dessa forma, paralelamente ao processo que culminaria com a libertação dos escravos, iniciou-se uma política agressiva de incentivo à imigração, ainda nos últimos anos do Império, marcada por uma intenção, também evidente, de ―tornar o país mais claro
Como os fazendeiros queriam resolver o seu problema de mão de obra, “buscaram implementar sua própria política imigratória” por meio dos governos das Províncias (Alencastro, 2019: 229). Assim em São Paulo, à época uma província em cujo governo a oligarquia cafeeira exercia enorme influência, as primeiras legislações de atração de imigrantes datam de 1871, e tratam do apoio financeiro que deveria ser oferecido aos fazendeiros para o custeio do transporte de imigrantes que saiam geralmente de Gênova (até 1899 foi o principal porto de saída de italianos) rumo a Santos. Gênova, conforme relata Zélia Gattai, foi o porto escolhido por seus avós para deixarem a Itália.
A maior parte dos imigrantes chega ao Brasil a partir de 1880. No total, “cinco milhões de europeus, levantinos e asiáticos entraram no território brasileiro entre 1850 e 1950” (Alencastro, 2019: 240). A maioria era composta de portugueses, espanhóis e italianos. O grupo, explica Alencastro, atendia a anseios tanto do Império, quando dos fazendeiros, “pois majoritariamente desprovidos de posses, situavam-se, por um lado, como substitutos dos escravos nas fazendas e como empregados nas novas áreas pós-escravistas”. Após a abolição, os ex-escravos passaram a ocupar um não lugar dentro do sistema da estrutura econômica do Império e, em seguida, da República, tendo de se submeter a uma vida de humilhações e vulnerabilidade como vimos nas três narrativas.
A ausência de melhorias nas condições de vida e de trabalho nas lavouras levou a conflitos entre fazendeiros e imigrantes. Os primeiros, acostumados ao trabalho escravo, se depararam com trabalhadores organizados e mais exigentes, que formavam greves e demandavam melhores condições. Assim, a maior parte dos imigrantes não se adequou ao eito e não tinha experiência com o plantio como os avós de Zélia que abandonaram as lavouras e partiram rumo à cidade. Segundo Mario Carelli (1985: 33), “já em 1908, só uma pequena percentagem dos trabalhadores parte para as fazendas, pois a maioria deles procura se instalar com as famílias no interior da cidade de São Paulo”.
Nas narrativas de Helena e Zélia, as meninas relatam também as dificuldades encontradas pelas famílias imigrantes ao se instalarem no Brasil, um país distante da imagem de Eldorado propagandeada aos trabalhadores estrangeiros, a vida dura nas fazendas de café ou nas minas, a ausência do Estado na oferta de serviços de saúde e educação. Zélia ainda narra a perseguição do governo Vargas aos imigrantes durante a Segunda Guerra e a campanha de integração à identidade nacional, por meio do fechamento de escolas e associações imigrantes, ou a proibição do ensino de línguas estrangeiras, por exemplo. Porém, apesar de todas as dificuldades, as famílias de origem imigrante conseguem prosperar poucas gerações após o desembarque no Brasil dos primeiros estrangeiros. Já Bitita revela a manutenção dos padrões de exploração da negra e do negro que perduram no período pós-abolição e são evidenciados no mundo do trabalho, padrões dos quais as próprias famílias imigrantes pobres se beneficiaram, além da perseguição constante da polícia, a falta ou a precariedade do trabalho, a exploração e o preconceito.
D. A infância
As meninas nos contam também como foram suas infâncias ao longo desse processo. Nas palavras de Alexandre Eulálio sobre Helena, “colocada num invejável ponto de observação”, a menina transitava por entre todas as classes sociais, traçando sem preocupações artísticas ou “afetação” a vida naquele núcleo urbano aberto para o mundo rural. Quase o mesmo podemos dizer da trajetória de Zélia pela infância-adolescência, ao descrever a São Paulo que ainda reservava lagos e rios para o banho dos meninos que andavam sem supervisão pela cidade.
Responsável junto com as irmãs e a mãe pelos cuidados com a casa, como vimos antes, Helena, no entanto, desafiava, com sua inconfundível insolência adolescente, a ordem das coisas: "Fiquem mamãe e Luisinha fazendo a vida delas sofrimento, eu vou aproveitar a minha". (Morley, 1998: 311). A solução, que lhe parecia óbvia, era passar por debaixo do arco-íris em busca da realização da lenda que assegurava a mudança de sexo da criança que assim o fizesse. Ela queria virar menino para poder ir caçar passarinhos com seus irmãos no lugar de passar roupas com a irmã. Pois também Bitita sonhava em se tornar menino passando por debaixo do arco-íris. Toda vez que via um, a menina corria atrás dele. A mãe lhe perguntava “por que é que você quer virar homem?” E a menina lhe respondia que queria “a força que tem o homem” (Jesus, 1994: 17).
A simbologia em torno do arco-íris é antiga e ligada à tradição oral. O dicionário de símbolos de Chevalier e Cheerbrant (1969: 81) assinala que o arco-íris representa “caminho e meditação” entre dois mundos, “ponte”. O mito também está ligado à tradição afro-brasileira, podendo representar Oxumaré, orixá que transita entre masculino e feminino (Ponce e Godoy, 2014: 210). Bitita queria a força do homem para cortar lenha e também porque o homem “ganha mais dinheiro que a mulher”. Para Helena, era o fardo das tarefas domésticas que lhe pesava mais que a seus irmãos. Na sabedoria pueril das meninas, o arco-íris poderia resolver o descompasso que a natureza e as circunstâncias permitiram. No caso de Bitita, porém, espanta que sua constatação deixe marcado o entroncamento de condições de classe e gênero: “o homem ganha mais”, de modo a interromper por um momento o relato de infância. Seria a autora adulta interferindo na voz narrativa da menina, o que nos confortaria como leitores, ou a revelação de uma consciência precoce de Bitita das perversidades do mundo? A narrativa de Jesus, a todo momento, interpela a leitora para que fique atenta à infância interrompida. Enquanto a menina diz que “para mim, o mundo consistia em comer, crescer e brincar” (Jesus, 2014: 21) e que “trepava nas árvores e comia frutas”, ela também narra com desencantamento o nascimento de outras crianças negras: “os pretos bebiam pinga à vontade. Quando nascia uma criança, eles bebiam porque estavam contentes. Mas aquela criança que nascia ia viver igual a eles quando crescesse” (Jesus, 1994: 55).
Em polo oposto, Zélia, sossegada na sua pele feminina, conta o início do século XX numa narrativa derramada pelo passar dos dias tranquilos, evocando um sentimento nostálgico de liberdade perdida, assim com uma sensação de segurança, ausente na narrativa de Bitita. Zélia, seus irmãos e vizinhos brincavam sem sobressaltos nas ruas, sem medo dos poucos automóveis, banhavam-se nos rios, tinham contato com animais diversos – peixinhos nos córregos, passarinhos nas árvores, vacas leiteiras, cachorros, gatos, Zélia Gattai teve até um bode de estimação. O cotidiano de Zélia certamente oferece um ponto de partida vantajoso para observar a vida comum das meninas imigrantes de São Paulo. Assim como o dia-a-dia de Helena. A autora, Alice Brant, declara, em nota à primeira edição de seu livro, a tranquilidade da vida de outrora, suspeitando até que a narrativa não fosse interessar o leitor contemporâneo (de 1942): “não sei se poderá interessar ao leitor de hoje a vida corrente de uma cidade do interior, no fim do século passado, através das impressões de uma menina, de uma cidade sem luz elétrica, água canalizada, telefone, nem mesmo padaria, quando se vivia contente com pouco, sem as preocupações de hoje”.
Para Bitita, no entanto, sua infância fora repleta de inseguranças, violência e morte. Os homens sem trabalho, eram frequentemente perseguidos pela polícia e “toda semana morria alguém” (Jesus, 1994: 79). As mulheres, abandonadas pelos companheiros, empregadas em trabalhos precarizados e expostas a toda sorte de exploração, inclusive sexual, sofriam também com o racismo. Ao observar como as negras e negros eram tratados, descortina-se um futuro ainda mais ameaçador para a criança que lhes observava e que “ia viver igual a eles”. No entanto, Bitita, busca escapar a essa realidade pela transfiguração literária, capaz de criar a profecia do próprio nascimento: “A tua filha [teria dito o médico à mãe de Bitita] é poetisa; pobre Sacramento, do teu seio sai uma poetisa. E sorriu” (Jesus, 1994: 74).
Conclusão
De acordo com Maurice Halbwachs (1994; 1997), não se pode falar em memória como pura manifestação do espírito. Para o estudioso da psicologia, a memória é sempre atrelada à realidade interpessoal das instituições sociais. A memória do indivíduo dependeria, portanto, do seu relacionamento com a família, com a classe social, com a escola, com a igreja, com a profissão; enfim, com os grupos de convívio e com os grupos de referência peculiares a esse indivíduo. Caberia, então, levarmos em conta que as autoras se inserem nas dinâmicas de classe de seus tempos e espaços, na medida em que “uma camada social só se define em relação a outra” (Novais, 2005: 146). Nessa perspectiva, entendemos que o fazer autobiográfico pode insinuar os contextos sociais em que transitaram as meninas, assim como o relembrar significa recriar uma ou várias histórias, e não apenas retransmiti-las tal qual vivido, pois, de acordo com Halbwachs, essas lembranças sofrem influências externas e nunca nos chegam em seu estado puro, mas como representação, retrabalhadas. Eclea Bosi (1994: 54) explica:
O caráter livre, espontâneo, quase onírico da memória é, segundo Halbwachs, excepcional. Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho. Se assim é, deve-se duvidar da sobrevivência do passado, “tal como foi”, e que se daria no inconsciente de cada sujeito [...] A menor alteração do ambiente atinge a qualidade íntima da memória. Por essa via, Halbwachs amarra a memória da pessoa à memória do grupo, e esta última à esfera maior da tradição, que é a memória coletiva de cada sociedade.
De acordo com a ideia de reconstrução de passado de Halbwachs, acreditamos que as memórias de Zélia Gattai e Carolina Maria de Jesus resultam também da interação com outras memórias, transmitidas por diferentes indivíduos e grupos, as quais as autoras conscientemente escolhem evocar ao longo dos livros. Rejeitamos, portanto, a hipótese de que essas memórias lhes tenham chegado como revelações espontâneas e repentinas. Na esteira de Halbwachs, defendemos a hipótese de que resultem do exercício deliberado do rememorar, assim como do trabalho literário capaz de transformar as memórias individuais e de grupo, cuidadosamente selecionadas, em narrativas. Logo, o passado é reconstruído. Em consequência, é possível que haja sempre, nas memórias dos mais velhos uma espécie de tensão na relação com o passado, em que o sujeito do presente revisita aquele sujeito que fora um dia, despertando o interesse à pergunta: “Quem sou eu?”. Zélia Gattai e Carolina Maria de Jesus dialogam com as meninas que foram um dia, enquanto Helena reflete sobre a moça em formação.
No caso de Alice Brant, o exercício de escrita diarística por certo não empreende o trabalho do rememorar nos moldes de que fala Halbwachs, mas situa a narradora Helena em relação a seus pares de classe. Ademais, o ato de narrar dos diários, conforme explica Jerome Bruner (1983) não pode ser tomado como espelhamento ou transcrição do vivido. Apoiada em Bruner, Maria Cristina de Gouveia (2019) diz que “seu autor [do diário] seleciona o que é objeto de escrita de acordo com códigos socioculturais vigentes, e os acontecimentos podem ser objeto de esquecimento, censura ou fabulação”. Nesse contexto, o diário se insere no conjunto de narrativas autobiográficas, não como uma reconstrução do passado, mas como refiguração do presente de que trata e que, no entanto, já passou. Somos nós, leitores, que empreendemos uma reedificação desse passado reconstruído quase sincronicamente.
O reencontro com o passado pode ajudar quem conta e quem ouve ou lê a trilhar juntos o caminho do conhecimento, na medida em que o compartilhamento de experiências contribui para conferir significado ao presente. Os três livros podem, cada um a sua maneira, ser encarados como possibilidades de aberturas de novos diálogos, por meio da literatura, à medida em que evocam experiências vividas pela autoras, por seus antepassados, familiares e amigos, ecoando assim vozes múltiplas que juntas compõem relatos de infância e que convidam o leitor a repensar o seu próprio mundo. Ao trazer para o presente passados variados, unem as pontas do tempo e conferem significados outros às narrativas em disputa sobre a vida brasileira. A partir desse diálogo com o passado, é possível recuperar e reconstruir identidades perdidas: a das próprias narradoras, a dos antepassados, a de povos que ajudaram a formar uma nação múltipla, complexa, fraturada e ainda em busca de si.
Essas autoras nos permitem visitar os corredores internos das estruturas sociais, que possibilitaram aos imigrantes, por exemplo, uma mobilidade social inviabilizada a negras e negros. Mas, enquanto as narrativas de Zélia e Helena oferecem vozes privilegiadas dentro do seu tempo histórico, Bitita ultrapassa o caráter autobiográfico para observar, além de si mesma e de seus núcleos familiares e circundantes, uma dinâmica de formação do povo brasileiro ainda mais ampliada. Ao perguntar a sua mãe: “Mamãe, eu sou gente ou bicho? O que é ser gente?” (Jesus, 1994: 15), a narradora coloca em questão os discursos sobre infância ao expor as chagas ancestrais das crianças negras e a relatividade de suas identidades. Ao se dar conta de que “toda semana morria alguém”, quebra a atmosfera de eternidade que costuma habitar as narrativas de infância, conferindo proporção material ao tempo e mortalidade às pessoas. “Era difícil morrer um rico”, conta Bitita, incluindo nessa equação as questões de classe que atravessam a cidadania brasileira e que servem também para expandir sua narrativa para além da autobiografia, situando-a seu olhar autobiográfico no exame da realidade.
Sua observação crítica revela por exemplo que, para a mulher negra, a mestiçagem se traduzia pela banalidade do estupro. Resultante dele surgiam mestiços que tristemente reforçavam em si mesmos a lógica do embranquecimento e do apagamento racial, como se pode ler no trecho: "Meninas que ainda estavam pensando nas bonecas, eram brutalizadas pelos filhos do senhor Pereira, Moreira, Oliveira...No fim de nove meses, a negrinha era mãe de um mulato ou pardo" (Jesus, 2014: 38). Ela denuncia ainda impactos das práticas colonialistas na pós-colonialidade: “Só os brancos são considerados brasileiros” (Jesus, 2014: 123), trata da escravidão e das mazelas consequentes, da falta de educação e de terras para as populações negras, entre outros temas. Nas palavras de Starobinski (2011: 22) sobre os Ensaios de Montaigne, o ensaio é “insubordinado”, “imprevisível”, “perigosamente pessoal” e “sua estética é a da miscelânea”, alternando exame da realidade e “poesia”. No Diário de Bitita, a dimensão autobiográfica se mescla às observações certamente insubordinadas da autora que deu por título “Um Brasil para os brasileiros” ao livro que ganhou ares de diário pelas mãos das editoras. Esse Brasil pelo qual ansiava era um país que acolhia as negras e negros, cuja defesa tinha raízes na sua experiência “perigosamente pessoal”, sem prescindir da poesia.
Portanto, o reencontro com os passados evocados por essas autoras, pela autobiografia ensaística de Carolina Maria de Jesus, o diário de Alice Brant ou as memórias de Zélia Gattai, que passam ao largo das narrativas de verniz nacionalista ou patriótica, abrem as portas para tempos que evocam diferentes heranças, especialmente se tomadas em toda a sua diversidade de perspectivas. Cumpre-se ressaltar, inclusive, tratam-se de perspectivas incomuns, pois, como visto, as escrita autobiográfica de mulheres vem se tornando mais comum só muito recentemente, com o acesso ampliado à educação pública. Assim, na esteira do pensamento de Bosi, a partir desse diálogo com o passado, é possível reconstruir identidades como as dos negros e a dos imigrantes, recriando histórias cotidianas, mas também ancestrais, retomando diálogos perdidos no tempo, permitindo reexaminar e desalienar o presente, num processo trabalhoso de reconstrução conjunta (autoras-leitores) do passado.
Por fim, ouvir novas vozes coloca em disputa as narrativas sobre a nação, questiona os discursos frequentemente retomados de um país racialmente democrático. A escuta atenta de narrativas plurais nos permite conhecer melhor as diferenças que nos compõem, assim como as semelhanças. Foi o escritor Lima Barreto (1921), atento à profunda empatia que permite e provoca o ato de ler, quem talvez tenha mais bem explicado alguns dos mais importantes papeis da literatura nessa linha de entendimento:
Entrando no segredo das vidas e das coisas, a literatura reforça o nosso natural sentimento de solidariedade com os nossos semelhantes, explicando-lhes os defeitos, realçando-lhes as qualidades e zombando dos fúteis motivos que nos separam uns dos outros. Ela tende a obrigar a todos nós a nos tolerarmos e a nos compreendermos; e, por aí, nós nos chegaremos a amar mais perfeitamente na superfície do planeta que rola pelos espaços sem fim.
Notas de fim
[1] Em Minha vida de menina, Alice Caldeira Dayrell Brant (1880-1970) criou um pseudônimo, provavelmente na intenção de não expor sua família a qualquer fato constrangedor ou muito íntimo. A coincidência entre o pseudônimo - Helena Morley - com o nome da narradora-personagem, Helena, corresponde à igualdade entre os nomes da autora real e da narradora dos diários que deram origem aos livros.
[2] Sobre a relação entre autoria e representação, destacamos pesquisa coordenada pela professora Regina Dalcastagnè que revela que, entre as obras publicadas pelas quatro mais importantes editoras do Brasil entre 1990 e 2004, 93,9% são de autoria de pessoas brancas, sobretudo homens brancos de classes médias. Apenas cerca de 30% desse total é composto de escritorAs — em sua maioria, brancas e de classe média. Dentro desse contexto de produção de maioria branca e masculina, menos de 8% das personagens construídas por esses autores são negras. A pesquisa observa que a falta de representatividade de personagens fora do padrão homem branco de classe média parece atrelada à falta de diversidade de autoria. (Regina Dalcastagnè, 2005: 13-71).
[3] « Récit Rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité » (Lejeune, 1996 : 14).
[4] Sempre que usarmos os termos autora, narradora, autora-narradora, para fins deste artigo, queremos nos referir à figura do autor-narrador-personagem de Philippe Lejeune.
[5] A autora analisou as obras literárias de doze escritoras: George Sand, Mme de Charrière, Mme de la Fayette, Colette, Marguerite Duras, Jane Eyre, Marie Shelley, Radclyffe Hall, Virginia Woolf, Kathleen Rayne, Sapho e Thèrese d’Avila. Apesar de terem vivido em lugares e épocas distintas, o estudo de suas obras pode nos apontar características presentes na obra da mulher escritora em geral.
[6] A Lei Áurea, Lei nº 3.353 de 13 de maio de 1888, determina apenas que: “É extinta desde a data desta Lei a escravidão no Brasil”, sem oferecer qualquer meio de inserção socioeconômica para as populações negras. Ver: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM3353.htm (consultado em 22/11/2019).
Bibliografia
Alencastro Luiz Felipe de (2019). “Caras e modos dos migrantes e imigrantes”. História da vida privada no Brasil – Império: a corte e a modernidade nacional, vol. 2. São Paulo: Companhia de Bolso: 221-243.
Alencastro Luiz Felipe de (2014). “África, Números do tráfico atlântico”. In Schwarz L. M., Gomes F. (orgs), Dicionário da Escravidão e Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras: 57-63.
Bense Max (2014). “O ensaio e sua prosa”. Revista Serrote – Doze ensaios sobre o ensaio, Abril de 2014.
Bourdieu Pierre (1986). As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário. São Paulo: Companhia das Letras,
Bruner Jerome (1983). In search of mind: essays in autobiography. New York: Harper & Row.
Bosi Eclea (1994). Memória e Sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: Companhia das Letras.
Candido Antonio (1993). “A vida ao rés-do-chão”. In Recortes. São Paulo, Companhia das Letras.
Carelli Mário (1985). Carcamanos e Comendadores: os italianos de São Paulo, da realidade à ficção (1919-1930). São Paulo: Ática.
Chevalier Jean, Cheerbrant Alain (2012). Dictionnaire des symboles, mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres. Paris : Robert Laffont, Jupiter, Paris.
Costa Emília Viotti da (1999). Da monarquia à república: momentos decisivos. São Paulo: Fundação Editora da UNESP.
Dalcastagnè Regina (2005). “A personagem do romance brasileiro contemporâneo : 1990-2004”. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, n°26: 13-71.
Didier Béatrice (1981). L’Écriture-Femme. Paris : Presse Universitaire de France.
Fausto Boris (1995). História do Brasil. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo.
Fernandes Florestan (2008). A integração do negro na sociedade de classes, vol.1. São Paulo: Editora Globo.
Foucault Michel (1992). “A escrita de si”. O que é um autor?, Passagens, Lisboa,. pp. 129-160.
Freyre Gilberto (2003). Casa grande & senzala - formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. São Paulo: Editora Global.
Gattai Zélia (1982). Anarquistas, Graças a Deus. Rio de Janeiro: Record, 1982.
Halbwachs Maurice (1994). Les cadres sociaux de la mémoire. ParisÉditions Albin Michel, 1994.
Halbwachs Maurice (1997). La mémoire collective. Paris : Éditions Albin Michel.
Jesus Carolina Maria de (2014). Diário de Bitita. São Paulo : SESI-SP.
Lejeune Philippe (1993). Les moi des demoiselles, Paris Seuil.
Lejeune Philippe (1996). Le Pacte Autobiographique. Paris Seuil.
Lima Barreto Afonso Henriques de (1921). “O destino da literatura”. Revista Sousa Cruz, n°58-59.
Morley Helena (1998). Minha vida de menina. São Paulo: Companhia das Letras.
Nascimento Beatriz (2019). “A mulher negra no mercado de trabalho”. In Hollando, H. B. (org), Pensamento femininsta brasileiro formação e contexto. Rio de Janeiro: Bazar do tempo: 259-263.
Novais Fernando (2005). “A evolução da sociedade brasileira: alguns aspectos do processo histórico da formação social do Brasil”. Aproximações, Cosac Naify, 2005.
Ponce Eduardo de Sousa, Godoy Maria Carolina (2014). “A cultura afro-brasileira na construção de personagens de Mar Morto e Ponciá Vicêncio”. Signótica, v. 26, n. : 193-215.
Rosenberg Fúlvia, Piza Edith (1995/96). “Analfabetismo, gênero e raça no Brasil”. Revista USP, dezembro-fevereiro 95/96: 110-121.
Schwarz Roberto (1997). “Outra capitu”. Duas meninas, Companhia das Letras.
Starobinski Jean (2011). “É possível definir o ensaio?”. Remate de Malês, trad. de Bruna Torlay, Campinas-SP, Jan./Dez. 2011: 13-24.
Pour citer cet article
Maria Clara Machado Campello, « Narrativas autobiográficas de mulheres: notas sobre figurações desalienadoras do passado », RITA [en ligne], n°14 : septembre 2021, mis en ligne le 23 septembre 2021. Disponible en ligne : http://revue-rita.com/articles/narrativas-autobiograficas-de-mulheres-notas-sobre-figuracoes-desalienadoras-do-passado-maria-clara-machado-campello.html



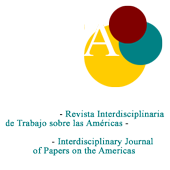
 Avec le soutien du LER-Université Paris 8
Avec le soutien du LER-Université Paris 8